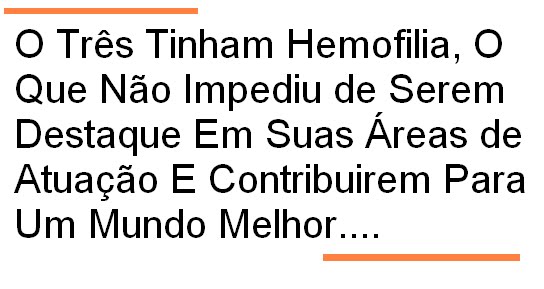Sinopse
Parte da renda do documentário é doada em benefício da ABIA - Associação Interdisciplinar de AIDS.
O filme levou também o prêmio de melhor roteiro no Festival de Goiânia, além de receber menção honrosa no Femina Fest, em julho de 2007. cientista social, exilado político, fundador da Campanha Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida, que foi indicado em 1994 ao Prêmio Nobel da Paz; Henfil, cartunista que lutou pela volta dos exilados durante a ditadura militar e criou a expressão Diretas Já como forma de exigir a volta da democracia ao Brasil; e Chico Mário foi um músico pioneiro na cria;'ao de música independente e compositor de canções contra a tortura.
Os irmãos se destacaram na luta em defesa dos direitos humanos e justiça social.
Além da luta contra a ditadura, pelos direitos humanos e justiça social, eles influenciaram na melhoria do tratamento dado pelo governo aos hemofílicos e bem como a questão da contaminação pela AIDS nas transfusões de sangue. Betinho criou a Campanha Cidadania Contra A Fome, que levou a crianção anos mais tarde por sua influência, nos programas sociais do governo federal, hoje conhecidos como Bolsa Cidadania e Bolsa Escola. Veja Um Pouco da Influência dos Irmãos Betinho e Henfil na luta pela qualidade das transfusões de sangue e melhoria no tratamento da hemofilia no Brasil.
“Era um ranço da ditadura: o direito de todos à saúde, algo novo, não dava ibope”.
Ao mesmo tempo, a emenda contra o comércio do sangue teve ampla cobertura. Para ela, o assunto “deu ibope” porque afetava um setor forte da “indústria” e se relacionava com os intensos debates que se travavam em torno da aids.
A crescente epidemia, que fazia suas primeiras vítimas no país, atingia com especial crueldade os hemofílicos — que dependiam de transfusões de sangue regulares.
“Era um momento dramático”, descreve a cientista social Sílvia Ramos, que naqueles dias era secretária executiva da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia). Ela lembra que foi grande o impacto causado pelos primeiros casos confirmados de contaminação pelo HIV entre os hemofílicos, causados por sangue contaminado.
A “loteria” que colocava em risco hemofílicos, parceiros e parceiras, associada ao desconhecimento de causas e modos de transmissão da doença, logo despertou reações na sociedade civil.
Uma delas tomou corpo na Abia, fundada em 1987 por um grupo de ativistas que tinha à frente o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Hemofílico e soropositivo, ele personificou, ao lado dos irmãos Chico Mário e Henfil, a luta pública contra o comércio do sangue. “Betinho foi a pessoa que nos legitimou a politizar a discussão sobre o sangue, e mais que isso, foi por causa dele que conseguimos estabelecer normas e cumpri-las”, avalia o médico Álvaro Matida, na época coordenador do Programa Estadual de DST/Aids do Rio de Janeiro. Sílvia resume o cenário com uma palavra: “descalabro”.
“Havia um padrão culturalmente aceitável de empresários que viviam do comércio do sangue, verdadeiros vampiros e no Rio de Janeiro a situação era pior: havia gente, na Baixada, que doava quase todos os dias em troca de um valor que hoje equivaleria a 15 reais”, diz.
A prática de compra e venda generalizada, “quase um tráfico”, somente foi impactada graças à articulação conjunta entre diversos setores da sociedade: “a luta contra o comércio do sangue foi a primeira política pública de saúde impactada pelo HIV”, define Sílvia. Pela primeira vez, sociedade civil e autoridades governamentais de saúde definiram uma aliança em condições de igualdade, modelo que foi copiado em outras ações de enfrentamento à aids.
Ela conta que esta parceria não teria sido efetiva se não tivesse contado com a participação de dois outros importantes atores: o Poder Legislativo e a mídia.
A articulação direta com os profissionais de imprensa, avalia, foi responsável pela grande repercussão em torno da adoção de medidas regulatórias em relação ao sangue. Sem falar no caráter “midiático” da epidemia: “A aids era sinônimo de manchete de jornal mesmo antes de fazer as primeiras vítimas no Brasil”.
A morte do cartunista Henfil, em 4 de janeiro de 1988, em plena Constituinte, provocou comoção no plenário: da tribuna, vários parlamentares exigiam o controle do sangue. Sílvia também destaca como estratégia decisiva a postura corajosa de Betinho, ao assumir publicamente sua condição de soropositivo.
“Os hemofílicos poderiam ter se escondido: considerados vítimas ‘inocentes’ do HIV, eles também sofriam preconceito”. Ela lembra que, a partir do momento em que o HIV entrou em questão, mortes e problemas sanitários ocasionados pelo sangue contaminado foram considerados crime, e seus responsáveis, “criminosos”. Matida lembra que a aids deu visibilidade a outras epidemias “silenciosas” relacionadas à falta de controle do sangue, como as contaminações por citomegalovírus, malária e hepatites.
“A aids legitimou o poder público a tomar atitudes drásticas, como fechar bancos de sangue”, ressalta.
O episódio deixou como lição a idéia de que os profissionais de saúde precisam estar em constante interação com a sociedade, incluindo-se aí os meios de comunicação.
A Assembléia Nacional Constituinte aprovou em primeiro turno a estatização da rede de coleta, pesquisa, tratamento e transfusão de sangue e seus derivados, mas a vitória não foi fácil. No dia da votação, as galerias do Congresso Nacional ficaram lotadas de representantes de sindicatos de trabalhadores da área da saúde, de entidades médicas e conselhos profissionais, além de secretários municipais e estaduais de Saúde. Foram 313 votos a favor, 127 contrários e 37 abstenções. Única emenda votada em separado — os constituintes não chegaram a acordo em torno do tema nos dias em que foi debatido em plenário —, o texto foi aprovado sob gritos de “salve o sangue do povo brasileiro”, na mesma sessão que aprovou por acordo o novo texto sobre saúde, seguridade, previdência e assistência social.
Alguns constituintes criticaram a decisão, como o deputado Pedro Canedo (PFL-SP), para quem a aprovação tinha se dado “emocionalmente” graças à morte de Henfil, manifestando preocupação quanto à responsabilidade conferida ao Estado, segundo ele incapaz de gerenciar a situação: “É exatamente a esse Estado que esses segmentos da esquerda de nosso país querem entregar a coleta, o processamento e a transfusão do sangue e seus derivados”.
Também contrário à medida, o constituinte Fernando Gomes (PMDB-BA) criticou: “Como pode o governo assumir a comercialização do sangue se falta medicamento e muitas vezes se espera 24 horas, uma semana para esse atendimento, quando o sangue tem que ser fornecido na hora?”, questionou. Francisco Dias (PMDB-SP) atestava sua confiança: “Estarei do lado daqueles que defendem o controle absoluto do sangue por parte do governo”.
Em entrevista à edição nº 10 da Tema/RADIS, publicada em junho de 1988, logo após a aprovação da emenda do sangue, Betinho resumiu a motivação da luta: “Acho que a aids criminalizou o sangue, porque é mortal. Não entendo como o sangue possa ser objeto de transação comercial, pois foi exatamente essa natureza da transfusão que nos levou a viver essa desgraça”. A luta dos ativistas seria longa.
Apesar da aprovação da emenda na Constituinte, o efetivo controle sobre o comércio do sangue só ocorreu com a aprovação do projeto de lei nº 1064, de 1991, inicialmente apresentado pelo deputado Raimundo Bezerra (PMDB-CE). Sua aprovação, entretanto, viria apenas em 2001, constituindo a Lei 10.205, conhecida como “Lei Betinho”. A lei ratifica a proibição do comércio de sangue e derivados e estabelece a criação do Sistema Nacional de Sangue (Sinasan), voltado para a fiscalização de atividades e a vigilância sanitária de produtos.
Também propõe a Política Nacional de Sangue, que objetiva garantir a auto-suficiência do país no setor. É também a Lei Betinho que determina o uso de material descartável, a triagem de doadores e testagem do sangue coletado, além de proibir a remuneração da doação, que deve ser voluntária. Estabelece, ainda, que o paciente tem o direito de conhecer a procedência do sangue a ser recebido por transfusão e institui, como diretriz básica, o acesso universal da população ao sangue. (A.D.L)




























,%20em%20parce_20251215_195738_0000.png)

,%20em%20parce_20251215_201138_0000.png)
,%20em%20parce_20251215_195143_0000.png)
,%20em%20parce_20251215_200033_0000.png)